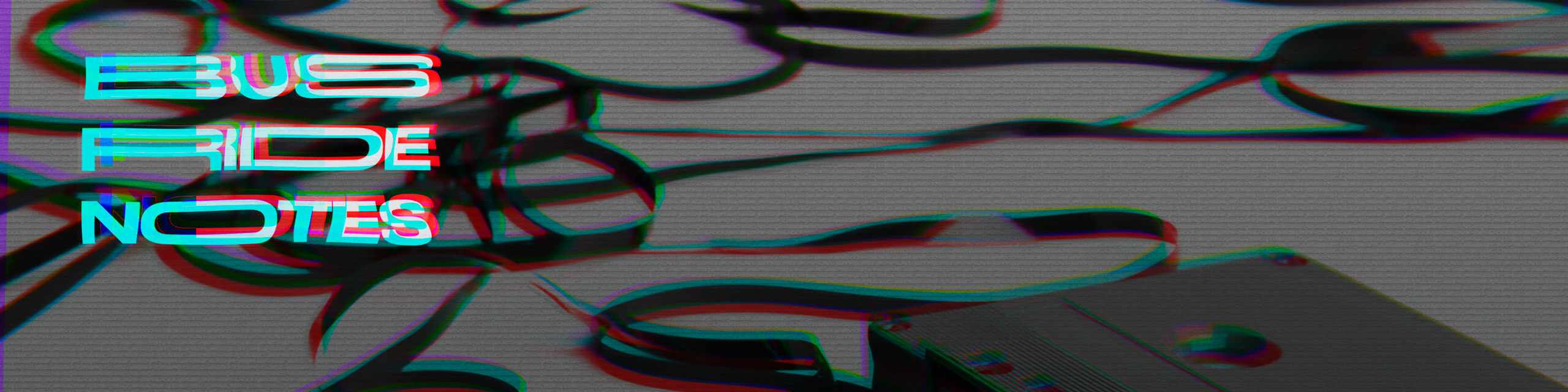Umbilichaos é um projeto solo de Anna C. Chaos, iniciado em 2007, a banda de doom, post-hardcore, sludge tem 11 lançamentos entre discos, EPs e splits.
Em abril foi lançado o single “To Become Unreal” do trabalho homônimo com duas faixas de 25 minutos no total, agendado para junho.
Conversamos com Anna sobre a banda, seu processo de composição, como o “faça você mesmo” nem sempre é uma escolha, como nossa cena libertária não é bem assim e, claro, sobre “To Become Unreal”, numa entrevista que você lê a seguir:
Você pode se apresentar, pra quem não conhece?
Meu nome é Anna Claudia, vulgo Anna C. Chaos, toco guitarra e canto na Umbilichaos e Ismália, ambos solo. Também programo drum-machines, efeitos e ruídos. Sou feminista interseccional, mulher trans e lésbica.
Nós que ouvimos hardcore e metal underground quando vemos o nome Umbilichaos, se não conhecemos, temos a sensação de “esse nome é familiar” e só de olhar sua discografia, vemos que a banda é muito ativa. Você pode falar sobre isso? Ser um projeto solo tem alguma influência?
Muitas pessoas dizem isso, rsrs. Tocar e compor é minha grande paixão, eu passo a maior parte do meu tempo desperta pensando em música e acho que sou bem produtiva musicalmente. Quando lancei o primeiro disco, já tinha os próximos três prontos para gravar, e sigo nesse ritmo. Tudo que é lançado já tem alguns anos de idade e maturação.
Acho que ser solo tem alguma influência, sim. A logística é mais ágil do que depender de mais pessoas com rotinas diferentes, eu posso encaixar os processos no tempo que tenho, o que já não é possível com uma banda. Mas pode também ser um empecilho, pois não há outras ideias para somar, para apresentar saídas de labirintos criativos. E o processo de criação dos arranjos vai passando por etapas, ao invés de uma jam de banda, em que já pode surgir uma estrutura semi-definida.
Além de eu ser obcecada com detalhes, especialmente nas partes de bateria. Chego a montar uma batida com 20 variações diferentes, para gravar e decidir qual é a que gosto.
Outro aspecto disso é que é você mesma quem faz toda a parte técnica, gravação, mix, master e inclusive a arte dos primeiros discos. Como surgiu a escolha de fazer tudo?
Não foi bem uma escolha. Como tocar solo, foi um momento de “faça, ou desista.” Música é uma coisa cara, a maioria dos equipamentos vêm de fora, e nossa moeda não vale nada há algum tempo. O que inclusive, acredito ser um dos fatores que diminui o interesse das pessoas pelo rock no geral: não ter acesso a essas coisas.
Meu único disco gravado em estúdio, foi “Entrails” (2009), o primeiro. Quem cuidou disso foi o Bernardo Pacheco, guitarrista de duas das minhas bandas favoritas, Elma e Are You God?. Com o tempo fui adquirindo equipamentos mais simples, softwares gratuitos, perdendo o medo de computadores, fazendo experimentos, e comecei a cuidar dessa parte técnica também. Tem limitações, mas eu acredito firmemente em tentar tirar o melhor do que você tem em mãos. E fui melhorando com o tempo, inclusive em aspectos estruturais, graças a algumas coisinhas que trouxe quando toquei na Europa.
Sobre as artes, eu criei o logo e todos os layouts. Fiz as artes da trilogia “Entrails” (últimos desenhos da minha vida, depois abandonei), e a foto do “Samsara” (2013) é minha também. Mas a diagramação do segundo e terceiro, foi da queridíssima Carol Doro (Sisters Mindtrap e dona da Duende dos Cabos), e do “Samsara”, pelo Ricardo Faller (Água Pesada).
Do quinto ao oitavo, roubei de filmes que gosto e diagramei eu mesma (softwares gratuitos, nunca esqueçam deles). “Belong to Nothing” (2018), colaboração com o Kovtun, contava com arte do Marcos Varanelli.
Todos a partir daí, contaram com fotos de um dos meus baixistas favoritos, de uma das minhas bandas favoritas, Carlos Gomez (Vincebuz), encerrando esta parceria neste novo disco.
Como é o seu processo de composição?
Sempre começa com a guitarra, mas nem sempre com ela em mãos. Nos primeiros sete anos, sempre tinha de parar para tocar mesmo e deixar as coisas acontecerem. Com riffs definidos, eu começava a arranjar e programar a bateria.
Há alguns anos eu comecei a compor mentalmente, com ideias surgindo espontaneamente. Com as partes de guitarra meio definidas mentalmente, arranjo e programo a bateria, e duas ou três vezes por ano eu paro uma ou duas semanas para materializar as coisas.
Em ambos os casos, a partir da definição da guitarra base e bateria, componho harmonias e/ou experimento com acordes. Por último os vocais e talvez outros sons adicionais (samples, ruídos).
As letras vêm de poemas que fui escrevendo ao longo dos anos. E, claro, muito do processo se deve a escutar música. Cada disco meu fala de descobertas e obsessões musicais de períodos particulares.
Você pode falar um pouco sobre “To Become Unreal”? Uma das faixas acabou de ser lançada como single, né?
Sim, em 15 de abril saiu um single. Agora em 17 de junho, sai o disco inteiro, com duas faixas de 25 minutos no total.
A maior parte dos meus discos é uma única música dividida em várias faixas. A ideia sempre foi proporcionar uma experiência imersiva, uma jornada musical, ao invés das fórmulas tradicionais.
“To Become Unreal” é a quarta parte da “Tetralogia da Solidão” e uma progressão natural em termos de composição. É lento, grave, psicodélico, intenso e agressivo. Explora dissonâncias e texturas, com riffs e acordes estendidos e angulares. Tempos e dinâmicas estranhos, sempre tentando forçar mais a complexidade das programações de drum-machine. Elementos não muito convencionais como tablas e guitarra slide. Explorações com ruídos, efeitos e intervalos.
Nos quatro primeiros discos, havia um foco em harmonias de duas ou três guitarras fazendo coisas diferentes. Depois, a adição de uma cacofonia de ruídos e samples, do quinto ao oitavo disco.
A tetralogia atual foca em ser mais concisa, explorando colorações diferentes em acordes não convencionais, mais regrada no uso dos elementos citados anteriormente, tentando colocar mais feiura nas partes melódicas, e alguma beleza e harmonia nas dissonantes.
Liricamente, continua com muita influência de Jung, Joseph Campbell, João Cabral de Mello Neto e Vidas Secas. Tem muito dessa ideia de aridez desértica, desolação e isolamento.
Você já fez turnês fora do país, você vê alguma diferença marcante entre as cenas daqui e de fora?
Algumas, sim. Eu fiz turnê na Europa. O que posso dizer é que mesmo no menor circuito do rock independente é mais fácil encontrar estrutura de equipamentos com alguma qualidade.
Os países são pequenos, em 15 horas você atravessa a Alemanha de leste a oeste, de transporte coletivo. E há duas, três cidades para tocar em cada país, no mínimo. A logística é mais fácil, então. Também não rolou o “tocar de graça para divulgar seu trabalho”.
O público é um pouco mais entusiasta, tem mais interesse em comprar merchs das atrações e tem uma relação bem respeitosa com a arte. Eles agradecem entre as músicas. Até comentei sobre com organizadores de um festival em que toquei na Bélgica e eles me disseram que agradecem porque estamos dando algo pra eles.
Claro, acontecem problemas muito familiares também: organizadores que divulgam mal os eventos, ou não os planejam muito bem, operadores de som que não conhecem os equipamentos, passagens de som precárias ou inexistentes.
Mas as bebidas são melhores. Eu praticamente não bebo mais, mas tive que provar algumas vodcas russas e polonesas.
E tem a “Fuck Parade”, uma parada LGBT dos punks, em Berlim, onde quero muito voltar. Rsrs.
Você disse em entrevista ao site Rock em Síntese* que ficou um tempo afastada de shows, tanto tocando quanto assistindo, após sua transição. Isso foi devido a algo específico que você presenciou ou foi uma fase? E como estão as coisas nesse aspecto hoje?
Certamente, devido a muitos “algo” que presenciei. Não na cena em si, mas na sociedade como um todo. A gente vive numa cultura muito violenta e intolerante, que odeia mulheres, que odeia pessoas trans, entre muitos outros ódios. Então, acaba rolando essa inconsistência entre o discurso libertário do metal e hardcore, do rock em geral, e as práticas sociais que interiorizamos como seres pertencentes a uma sociedade opressora.
Não teve uma mulher ainda para me dizer que se sente completamente respeitada na cena, que nunca se sentiu subestimada, seja curtindo um som, seja fazendo música. Já ouvi falas de homens cis, como “banda de/com mulher sempre chama mais atenção”, num discurso super fetichizador e condescendente. E estou falando de mulheres cis, pois mulheres trans no rock brasileiro, quase nem conheço.
De cabeça, sei da Foxx Salema e da Karine Profana (Mau Sangue, Messias Empalado). Homens trans e pessoas transmasculinas, nem sei da existência nesse rolê. Se alguém souber, me indique. Rsrs.
Karine foi inclusive a primeira travesti que encontrei num show de metal/HC, show da Armagedom, cerca de um ano antes de eu transicionar, talvez. Na época acho que eu já sabia da Laura Jane Grace (Against Me!), Mina Capputo (Life of Agony) e Marissa Martinez, mas conhecer outra mulher trans pessoalmente, nesse espaço, fez perceber que era possível e real. Então, fica minha homenagem pra Karine, pois nunca disse isso a ela. Rsrs.
Mas, voltando à pergunta, apesar do discurso, nossa cena musical não tem um histórico de acolher todas as diferenças. Ainda é um espaço muito cis-hétero, com alguma abertura para mulheres cis (de preferência vendo a banda do namorado). Então, população LGBT no geral, não tá nem aí pro rock. Pra que adentrar mais um espaço de violência? A gente já aguenta tanta merda nos espaços que temos que estar para ter uma vida, que não sobra vontade ou energia para gastar com opcionais, sabe? E minha ausência veio um pouco disso, de não acreditar que seria bem-vinda nesses espaços e me poupar.
E mais uma vez, não por algo direcionado a mim, mas por tudo que observei dentro e fora da cena. Uns dez anos atrás, por exemplo, dentro do rock paulista usavam ainda o termo “pederasta” para se referir a homens gays. Os emos eram perseguidos por serem “viados”, porque todo som que o roqueiro não curte é viadagem.
Parece inimaginável ser uma pessoa trans e estar neste meio, diante dessas coisas. E também havia muita coisa pessoal acontecendo, eu não precisava de mais problemas, rsrs. Passadas as tempestades, e sendo teimosa, comecei a frequentar os shows, a ser convidada e me convidar para tocar. Posso dizer que me envolvo nos rolês mais críticos e/ou feministas, então não tenho tido muitos problemas na prática. Acredito que é um pouco de sorte também. E sou branca, isso já traz outro peso.
Mas nossa cena ainda tem muito o que aprender e crescer no sentido de acolher e proteger as diferenças, de proporcionar espaços seguros para todas as pessoas e formar verdadeiras comunidades. Perdemos muito a relevância em práxis libertária, acho. Por isso, em termos de Brasil, o rock está onde está. Mas acho que temos ainda potencial para ser mais do que um clube que só acolhe discussão sobre tatuagem, maconha e anarquia, e acha que o único inimigo é o neonazi.
Últimas considerações? Algum recado?
Quero agradecer pelo interesse e pelas perguntas. Espero que continuemos sãs e salvas para reconstruir o mundo no pós-apocalipse e guilhotinar o torturador do Planalto.
Se cuidem e se protejam, e que possamos nos encontrar em breve para fazer um som e criar espaços seguros e acolhedores para as pessoas que não se encaixam no patriarcado-classista-racista-LGBTfóbico. E não deixem de ouvir “To Become Unreal”!
* Link da entrevista para o Rock em Síntese.
Você pode ouvir Umbilichaos no Bandcamp e nas redes de stream.

Ex colaboradore das antigas Six Seconds e Calliope Magazine, entre alguns blogs de música. Resolveu fazer o próprio site enquanto não tem dinheiro o suficiente pra fazer uma versão BR do Audiotree Live.